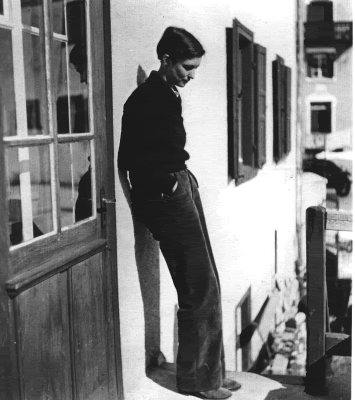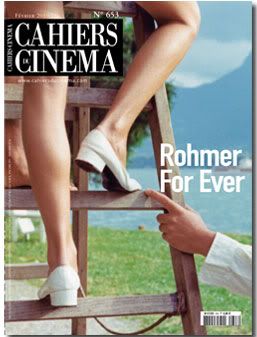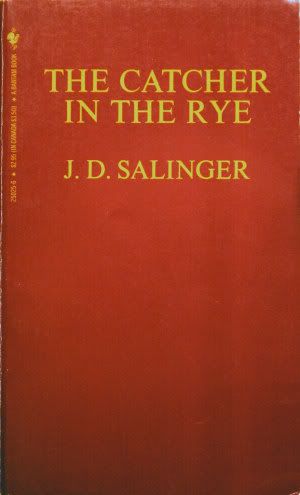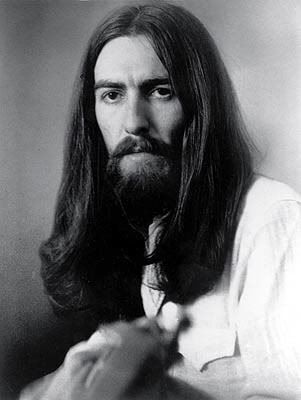E depois existem coisas importantíssimas no cinema, como a inteligência da beleza do rosto de Julie Christie.
17.10.10
10.9.10
30.8.10
26.8.10
21.8.10
Give me a reason to get out of the city
High Violet toca-se como a cidade de onde vem - NYC -, como uma banda que se vê consumida pela vida que tem e à qual se atira sempre, que anda na rua com as milhões de pessoas mais sozinhas deste mundo à sua volta, e que se entrega, também, à projecção da vida que deseja no meio delas, de uma felicidade e de um calor humano no meio da sua enorme multidão, das ruas quentes que ocupam e dos seus caminhos subterrâneos, sem paragens, sem tempo para respirar um pouco mais fundo. Deixa-se consumir pelo fulgor que a apanha, que lhe rouba a vida e atira-a de novo para os seus braços, como sinal maior de pujança, de controlo e de vício. Como se vivêssemos por ordem da cidade e ela nos devolvesse a nossa vida com autoridade, dizendo: agora vive, pega no que tenho e faz-te às emoções, escreve histórias e canta épicos. Isto é High Violet e isto é Nova Iorque, música e cidade que são armadilhas e estradas para as emoções. A solidão vive aqui, mas é a de quem deu tudo o que tinha para dar. Enquanto estivermos nela, sabemos que teremos sempre a vida, custe o que custe. Give me a reason to get out of the city. Poderão haver quinhentas, mas a maior delas faz-nos ficar. É o sentimento que resume Nova Iorque, que para além daquela ilha, está uma fuga que nos diz respeito, mas sem ela, já não nos saberemos entregar a mais nada.
13.8.10
Bluish
Em férias cuja paisagem dos dias se pontuava por lembranças de caminhos das florestas de Pierrot le Fou e da luz do sol caíndo sobre os corpos de Zabriskie Point, os passos caseiros e as noites no campo eram acompanhados pelo som longínquo e constante, quase imaginário, das ovelhas a pastar nas terras circundantes. E o silêncio tornava-se em imaginação por esse som dos sinos dos rebanhos, que abre um subconsciente como abriu o de Séverine de Buñuel, e habitou os meus sonhos com imagens tão vivas como as que fechava para receber o sol diurno. Até chegar a esse sol, a pergunta era inevitavelmente a mesma, e a que deixa sempre o rasto que nos vai picando a memória e o nosso estímulo: À quoi penses-tu? Je pense à toi, à nous. Encore ce rêve?
2.8.10
30.7.10
28.7.10
19.7.10
Si c'est un homme
Regresso a Scott Fitzgerald através do último filme de Elia Kazan - The Last Tycoon -, último livro também do escritor americano (e que livro, apesar de inacabado). Se Kazan lida bem com os momentos de paixão entre o protagonista e o seu objecto de desejo (a mulher fitzgeraldiana que enche de esperança qualquer homem e trá-lo, de novo, aos instintos mais imediatos e puros de uma inocência já perdida e que se deseja, em vão, sempre recuperar), é a Fitzgerald quem me agarro mais para o retrato desse herói algo perdido, algo idolatrado, sólido e elegante em pensamento e visão, mas máscara de uma perda com que esmurra no seu desejo. Porque se Fitzgerald nos mostra algo, nesse ponto, é que os homens têm toda a aparência do poder, mas são as figuras por quem se apaixonam que acabam por reduzi-lo, quando sós, a todas as porções da ilusão em que a sua estrutura se construiu, como a casa de praia deste filme montada para uma vida que não se concretiza. Se o silêncio de um homem é o tempo onde ele deixa falar, para si, essa inocência perdida, colada à imagem terrena onde vive e caminha, é aquilo que o permite ser, seguramente, essa matéria que se define como masculina, e que se transforma na aparência de uma frieza ou da expressão de uma violência, tão desenquadrada da sua vontade de ser, de pequeno rapaz que corre atrás de um desejo, da sua imagem e do seu sonho. Se dizem que os homens são todos iguais, serão, nesse caso, todos feitos disto.
17.7.10
6.7.10
E Buñuel disse
I. What sort of hopes do you place in love?
L.B.: If I'm in love, all hopes. If not, none.
L.B.: If I'm in love, all hopes. If not, none.
1.7.10
Uma nova porta
Um novo teste de paciência para os leitores deste blogue e um sítio onde poderei escrever mais vezes sobre o que vai acontecendo no cinema: www.dacasaamarela.blogspot.com.
22.6.10
Não é apenas o desejo de amar que é tocante nos personagens desvairados dos filmes de Cassavetes, é por sentir que o que dizem e como se movem não é fruto de uma loucura mas apenas um sinal de alguém que se atira à vida e ao amor com tudo o que tem, com as portas todas abertas para o desejo de amar e ser amado. É essa a verdadeira paixão - que cada aproximação e cada afastamento são fruto de um laço que é criado com o outro a partir do momento em que se olha para ele, não para usá-lo ou usufruir de algo mas para amá-lo pela pessoa que é, grande, frágil e zangada. A dedicação é algo que não falha nestes filmes e que não falha no amor que Cassavetes estabelece entre essas pessoas. Não há tempos mortos, não há pessoas que se servem umas às outras (e as que o fazem são os vilões - os bandidos em The Killing of a Chinese Bookie). O marido de Mabel em A Woman Under the Influence pode não entendê-la e dar-lhe tudo o que ela precisa, mas no meio daquelas pessoas todas, é ele que a ama como tudo e com tudo, para além de toda a frustração e do abismo que a presença da sua mulher dá à sua casa (também ela com toda a dedicação). É tocante ver o amor assim, um amor que segue e que não pára nas primeiras fricções e nos primeiros choques - usa-os e cresce como enorme monumento feito para a expressão destes rostos e a vida destas pessoas. O amor total será isso - under the influence, embriagados de amor. E o amor incondicional é aquele que sabe ser o elemento mais importante entre todas as coisas que se colocam entre nós.
Cassavetes
Everything that affects our lives is determined by the influence that one sex has upon the other. Sure, we're in the midst of political decay and turmoil - but that's not nearly as interesting.
21.6.10
20.6.10
17.6.10
Le Saint-André-des-Arts
O cinema Saint-André-des-Arts representa aquilo que é o pequeno (e grande) valioso templo de ideias do património francês: um cinema de "arte e ensaio", protegido pelos filmes que projecta para os seus espectadores, merecendo apoios e vantagens dignos dos filmes que passa. Sim, há países assim, em que as pessoas defendem o seu direito em apoiar algo como isso.
Tive a sorte de viver na "zona cinéfila" de Paris, onde esse cinema se encontrava. Ficava precisamente na rue Saint-André-des-Arts, em Saint-Michel. Os outros cinemas também existiam a poucos metros de distância, mais perto da Sorbonne, entre a rue des Écoles e a rue Champollion, a curta e estreita rua que se percorria em menos de um minuto mas que tinha 4 cinemas diferentes. E depois, em Saint-Germain-des-Prés, na rue Christinne, o cinema Action onde eu ia mais vezes - o cinema norte-americano todo dos anos 40 e 50, os ciclos de autores para os hitchcock-hawksianos. No Saint-André-des-Arts, com um ambiente mais discreto mas mais aberto, passava também os filmes que interessavam. Vi lá (e talvez na única sala em que passou em Paris) Les Amants Réguliers, mergulhado nas imagens poéticas de um Maio de 68 de Garrel e das suas relações jovens que se queriam adultas.
O dono do Saint-André-des-Arts, Roger Diamantis, faleceu, deixando o futuro do cinema em suspenso. A cinefilia parisiense fica mais pobre, assim como a ideia de vidas que se dedicam a alimentar as imagens e os sonhos dos outros, de um bairro, de uma cidade, de um mundo.
15.6.10
Os Verdes Anos
A expressão grave da vida está em Os Verdes Anos: um filme sobre a frustração dos nossos sonhos, daquilo que aspirávamos para os nossos sentimentos, a nossa raiva perante o rumo esperado das coisas e das relações, um desapontamento sobre aquilo do que pensávamos que éramos capazes de cumprir perante uma realidade terrena, quase subterrânea de uma condição de vida, tão portuguesa mas tão próxima e humana do mais universal dos feitios. Para além do mero fatalismo português, Os Verdes Anos coloca essa expressão à flor da nossa pele, ainda jovem e cujos dias, alimentados pelas nossas ilusões e desejos, se vêem quebrados na dificuldade em assumi-los e no encontro dos outros. Um filme marcante, elevado como num rodopio pela música obsessiva e fabulosa de Carlos Paredes. Filmes destes são os que nos vão directos à essência das nossas imagens, daquilo que sonhamos e que desejamos para o nosso cinema, em confronto directo com a frustração que pauta uma realidade cujo compromisso é o peso dos nossos passos.
13.6.10
"I liked so much the way she would suddenly sit down on a wall, or a broken pillar in that shattered backyard to Pompey's Pillar, and be plunged in an inextinguishable sorrow at some idea whose impact had only just made itself felt in her mind. 'You really believe so?' she would say with such sorrow that one was touched and amused at the same time. 'And why do you smile? You always smile at the most serious things. Ah! surely you should be sad?' If she ever knew me at all she must later have discovered that for those of us who feel deeply and who are at all conscious of the inextricable tangle of human thought there is only one response to be made - ironic tenderness and silence."
11.6.10
10.6.10
"In everyday life we are all afraid of pain and of dying. The best way to liberate ourselves from this is to confront the fear. As we in life try to do only things we enjoy doing, I consider that the easy way out, and I don't see any progress in it. Because when we only do things we enjoy doing, we repeat the same patterns over and over again, and we always make the same mistakes. If we chose to do things we are afraid of, we are stepping into 'new sphere of reality' in which we confront the uncertainty, which only one can give us opportunity to transform ourselves."
Marina Abramovic
9.6.10
1.6.10
Um prédio, outro país
No vôo de Lisboa para Nova Iorque, a TAP oferece aos seus passageiros a possibilidade de escolher o visionamento (estamos no avião, não no cinema) entre vários filmes portugueses. Fantástico, serviço público, penso eu. Percorro os filmes, lado a lado com as últimas novidades dos Óscares, e vejo que posso escolher, na verdade, entre os seguintes filmes: A Bela e o Paparazzo de António-Pedro Vasconcelos e Contrato de Nicolau Breyner. Ai ai. Deixo-me de "preconceitos" e começo a ver o primeiro. Passados dez minutos, salto para o segundo. E se o início foi o que foi, a queda foi ainda maior.
Desligo o ecrã e penso agora: mas está tudo louco? É disto que querem fazer do cinema português? Contra quem é que as pessoas que fazem estes filmes estão a trabalhar? Que missão têm dentro das suas cabeças para fazer destes - e sublinhe-se, apenas estes - como os filmes manifesto do que o cinema português deveria ser?
Entre a plasticidade, a falsidade do cinema "à papa" (contra o qual Truffaut, esse nome tão invocado em vão, lutou fervorosamente), do paternalismo e da fabricação de uma imagem totalmente mentirosa de uma vida portuguesa de pátio que é, no fundo, A Bela e o Paparazzo, perco as palavras para descrever o que será aquele objecto que vi naquele ecrã português que se chama Contrato. Provavelmente, pessoas que têm vergonha da sua cultura e do seu país para achar que uma indústria cinematográfica portuguesa deve ser feita de filmes "falados" em inglês (murmurados e com erros de gramática estampados nos seus adereços) com uma estética que lembra os últimos canais de um serviço de televisão de cabo de pacote. E escrevo, com todas as palavras que merece, o que um filme destes é para a inteligência de quem "espera", se alguém espera, pelo cinema: um insulto. Felizmente, estes filmes reduzem-se com o tempo àquilo que são. São filmes que transpiram por um reconhecimento de "lá fora" a partir do "cá dentro". Olhemos então "para fora" e para os seus números: que filmes estão nos festivais, nos seus mercados, que filmes são vendidos e vistos? A guerra que querem fazer nem existe.
E regresso a um texto que ganha (a ler aqui), de facto, todo o sentido, depois de ver "a glimpse" do que estes objectos são, nem que tenha sido por meros vinte minutos, meia hora, dentro de um avião, entra essas duas terras imaginárias, exemplos de uma luta fabricada para quem tanto detesta aquilo que é.
30.5.10
A terra
No número 141 da Wooster Street, no bairro de SoHo de Nova Iorque, sobe-se ao segundo andar e entra-se no "Earth Room": um espaço totalmente preenchido por terra. Um homem está na recepção a guardá-la. Este é o seu local de trabalho: todos os dias, de manhã à noite, guarda a terra, que é regada por ele uma vez por semana. Faz isso há vinte anos. Daqui alguém faria, com certeza, um extraordinário filme.
23.5.10
19.5.10
Pastelaria
Sim, deve ser do Outono. Começaram
a destruir a cidade (prioridades
automóveis, dizem) e o cu do Duque
da Terceira resigna-se fechadamente
ao rigor dos novos eléctricos.
Estou à tua espera - enredo banal,
cigarrilhas. Um novelo de fumo
abraça a espanhola que se
contorce no balcão para apagar um traço
mínimo de chocolate (pouco importa,
meus senhores, se ela leu ou não Pessoa).
Chegam depois as primeiras putas num cais
sem marinheiros. Abafado pelo trânsito,
o protesto de um negro mal fodido. E bares
de esquina, lulas fritas, anzóis de vários
feitios - há quem diga que o amor, também.
Encostada aos bolos da véspera,
a estória irremediavelmente fútil
do casalinho louro que nunca pôde
ter filhos. Lisboa adormece e é Outono,
no peso de um "caralho!" um pouco
mais sonoro, vindo do telefone público
que ainda aceita as moedas do pânico.
E os empregados, hirtos e dominicais,
passeiam o bigode, o brandy mortal
dos dias sempre assim. Enquanto
(vamos supor) te espero sentado
e o poema se escreve aberto sobre o Tejo.
Quanto custa a carne, aqui?
Barcos que apesar de tudo
comprometem estas coisas
e seguem para índia nenhuma
ou para a américa geral de todos
(massacres ao domicílio, pois
fumar provoca doenças cardiovasculares).
Vamos falar limpo, agora.
Sim, deve ser Outono, pela calamidade
dos sorrisos que esperam um nome
mais amplo ou um deus
transitável que subscreva a dor
e invente este mundo falso.
Mas eu estou de facto à tua espera,
com a metafísica no cinzeiro
ao lado e os testículos debicados
por uma pomba entediada (Francesco
Provenzale by Florio). Entardece aqui,
deveras. Como uma canção já velha.
Deve ser Outono, Inverno, pernas
de gazela fria que acalentam trapos
numa reza. São Paulo
lhes valha esta noite, pois não são
esperadas como tu, meu amor,
e hão-de receber o dízimo com um sorriso
profissional, facas de fingir nos bolsos.
O Outono já deu que falar, suponho.
Uma reforma pequena que nos surpreende
vivos, encostados a ninguém, palitando
os dentes da tarde. Sim,
essa moral da estória: não haver.
Enquanto se acumulam bandeiras
e insígnias torpes. Ou gestos suburbanos,
sob um ecrã de cinza que espanca
qualquer ressentimento. Quantas horas
morreste, bem feitas as contas?
- pergunta o herói siderúrgico
à rapariga do quiosque em frente
(que não se chama Liberdade,
segundo fontes fidedignas).
Comboios que vão partir, Laforgue,
jornais por ler. Ou as palavras
cariadas que o haxixe tornou
mais sábias: "eu, a bem dizer, não existo".
Sombras de lodo a revirarem-se
de novo nas paredes do léxico
que nos coube em sorte. Este
azar profundo, quando às sete e meia
da tarde Herberto Helder descia
paulatinamente a rua do Alecrim
numa pose de cidadão (desconfiar
das aparências, eis o inferno. Aqui.).
Sim, deve ser Outono. Em Pequim,
Lisboa ou Belfast. Começaram
a destruir a cidade e a segredar infâmias
no intervalo dos tremoços. Há uma certeza
de rastos que não vem quando a chamamos.
Por outras palavras, amo-te.
Manuel de Freitas
16.5.10
Fahrenheit 451
Truffaut dá-me sempre aquilo que preciso - numa história plena de totalitarismo e de destruição, de censura dos sentimentos e alieanação dos corpos, como é Fahrenheit 451, a dualidade da mulher por quem o protagonista nutre os seus sentimentos é sempre tocante. Truffaut entendia, de facto, as mulheres, e a sua sensibilidade para elas está presente, como retrato e como homenagem, em cada um dos seus filmes. Felizmente, filmou Julie Christie, maravilhosa actriz cuja beleza irradia como o fogo deste filme, e que nos mostra tudo aquilo que uma mulher tem: a insegurança em casa que alterna entre a frieza e o desejo repentino de um outro corpo onde se possa esquecer, a mulher exterior cujo interesse nos faz querer seguir para onde quer que ela vá, tanto para casas fechadas como para terras abandonadas onde as pessoas são livros. A entrega de um homem que decide, acima de tudo, entender essa mulher e poder dar-lhe aquilo que ela precisa para viver - toda a lógica do amor. Tudo isso é o pequeno mundo humano que nos forma e o grande mundo cinematográfico de Truffaut que nos toca. As pessoas nunca foram tão bonitas como no seu cinema, e os sentimentos nunca tão bem respeitados como nas suas histórias e nos seus planos. Saio dos seus filmes amando, mais do que a vida, aquilo que ela pode oferecer, amando aquilo que nos faz enquanto pessoas e que nos leva sempre a caminho dos sentimentos. Amando todo esse mundo, amando toda essa pessoa.
10.5.10
6.5.10
A aventura
Acordo e durmo estes dias com imagens e cenas recorrentes de L'Avventura de Antonioni. Não foi o filme que mais me impressionou dos que vi dele (como foi L'Eclisse, por exemplo), mas é talvez aquele que mais levo comigo, que me acompanha, lá está, por entre espaços vazios do dia e cheios do imaginário. Não será essa a característica dos melhores filmes?
De tudo aquilo que acontece (parece acontecer ou não acontece...), a ausência vivida nesse filme é aquela que me toca hoje e me leva de volta à paisagem daquele rochedo perdido no meio do mar e das ondas, ou das paisagens interiores de uma Itália pobre e atrasada, mero percurso para as novas aventuras de um casal que se descobre nos espaços dos seus corpos e nos interiores de quartos alugados. Persistem na procura dessa pessoa ausente, até se perder esse motivo e perderem, eles também, os seus próprios motivos. No fim, depois da busca pela ausência, nem a própria ausência fica, apenas o vazio, a recorrência de um acto de final de fuga que acaba por trazê-lo, ainda mais, à realidade da superfície. Essa aventura é o combate contra esse vazio que todos carregam, que eu próprio carrego, na busca da substância. Ela existe e também está em L'Avventura - como no plano do desenho propositadamente derramado pelo arquitecto, que não suporta, naquele momento, um acto de criação pelo acto de criar, um gesto novo e que busca uma perfeição. E se desse conflito sai o desconforto maior de quem está na aventura, saía talvez ainda mais a percepção de um desnorte, do recurso à violência como resposta à aventura já perdida.
A vida sem essa aventura é uma vida sem início, sem percurso. Mas no seu final, o risco do vazio é claro com a ausência daquilo que tínhamos e já não está presente para se amar. Voltará essa personagem desaparecida e que levou os outros à sua volta aos seus pedaços de vazio? Antonioni prefere realçar esse eclipse do que um regresso ou um renascimento, ao contrário de uma resolução mais crente, mais felliniana. Sinto que estou tanto de um lado como do outro - se desinteresso-me sem a aventura, não sobrevivo sem a crença e a esperança na possibilidade das coisas e das pessoas. Por isso, se um dia eu desaparecer, ritornerò.
30.4.10
27.4.10
20.4.10
Eu, o Povo
Eu, o Povo
Conheço a força da terra que rebenta a granada do grão
Fiz desta força um amigo fiel.
O vento sopra com força
A água corre com força
O fogo arde com força
Nos meus braços que vão crescer vou estender panos de vela
Para agarrar o vento e levar a força do vento à Produção.
As minhas mãos vão crescer até fazerem pás de roda
Para agarrar a força da água e pô-la na Produção.
Os meus pulmões vão crescer soprando na forja do coração
Para agarrar a força do fogo na Produção.
Eu, o Povo
Vou aprender a lutar do lado da Natureza
Vou ser camarada de armas dos quatro elementos.
A táctica colonialista é deixar o Povo no natural
Fazendo do Povo um inimigo da Natureza.
Eu, o Povo Moçambicano
Vou conhecer as minhas Grandes Forças todas.
Mutimati Barnabé João
17.4.10
16.4.10
Je suis une herbe folle
A experiência de ver Les Herbes Folles é a experiência de se viver uma paixão, ou melhor, um grande amor: uma narrativa com princípio, meio e fim, mas não necessariamente por essa ordem, actos irracionais levados por impulsos provocados, por sua parte, pelo pulsar de uma figura, pelas lembranças de uma imagem, pelo desejo de vê-la e revê-la, e por sentirmos que é nesse campo que somos livres como seres humanos para expressar, de uma vez por todas, os nossos maiores sentimentos - os que mexem definitivamente connosco e que retiram da sua frente toda outra dor acessória. E no fim sabemos que, até com o final feliz hollywoodiano presente e depois destruído, tudo valeu a pena - e aqui acrescento, tudo valeu a pena porque a alma não é pequena. E se Resnais dá-nos um filme com o maior respeito pela capacidade do espectador (e pela doçura com que ilumina os planos e os seus rostos) é porque Alain Resnais é grande de coração, grande de generosidade (com tudo o que oferece ao espectador para brincar) e grande de alma. Todos os amores verdadeiros são assim, apenas se todos os filmes nos dessem isso tudo. Coisas destas não são feitas para explicar.
15.4.10
Port turned on his heel in a rage and strode out into the court, where he made a systematic search of the cubicles from one side of the entrance to the other. But the girl was gone. Furious with disappointment, he walked through the gate into the dark street. An Arab soldier and a girl stood just outside the portal, talking in low tones. As he went past them he stared intently into her face. The soldier glared at him, but that was all. It was not she. Looking up and down the ill-lit street, he could discern two or three white-robed figures in the distance to the left and to the right. He started walking, viciously kicking stones out of his path. Now that she was gone, he was persuaded, not that a bit of enjoyment had been denied him, but that he had lost love itself. He climbed the hill and sat down beside the fort, leaning against the old walls. Below him were the few lights of the town, and beyond was the inevitable horizon of the desert. She would have put her hands up to his coat lapels, touched his face tentatively, run her sensitive fingers slowly along his lips. She would have sniffed the brilliantine in his hair and examined his garments with care. And in bed, without eyes to see beyond the bed, she would have been completely there, a prisoner. He thought of the little games he would have played with her, pretending to have disappeared when he was really still there; he thought of the countless ways he could have made her grateful to him. And always in conjunction with his fantasies he saw the imperturbable, faintly questioning face in its mask-like symmetry. He felt a sudden shudder of self pity that was almost pleasurable, it was such a complete expression of his mood. It was a physical shudder; he was alone, abandoned, lost, hopeless, cold. Cold especially—a deep interior cold nothing could change. Although it was the basis of his unhappiness, this glacial deadness, he would cling to it always, because it was also the core of his being, he had built the being around it.
11.4.10
8.4.10
As ilusoes
Teclado húngaro
Em viagem na Europa, venho parar quase instintivamente a Budapeste. Algo chamou-me até aqui: os filmes de István Szabó. Descobri A Idade das Ilusões na Cinemateca Portuguesa como filme ligeiramente perdido no meio do ciclo de uma década, sem saber ao que ia e sem me lembrar, ainda hoje, porque fui ve-lo. Vim da sessao tocado pela sua sinceridade e perdido como quem fica apaixonado: os dilemas do seu protagonista, comuns a qualquer jovem adulto - ou almas sensiveis -, eram os meus noutra cidade, noutro tempo, apenas unidos pela história do seu realizador e pelo modo como espelhavam sensacoes, imagens, paixoes, sentimentos e lutos. Por essa capacidade dos filmes tirarem tudo aquilo que julgávamos de morto dentro de nós, mas que ansiava por um espelho para os vermos como vivos que sao. O seu final, um enorme toque de despertador, era o toque que nos lembrava ser necessário acordar - o fim do questionamento, de viver na cidade e nas relacoes sem sabermos o que elas nos podem oferecer. E já no filme seguinte (Father), em que o mesmo (?) protagonista procura esclarecer a verdadeira história de vida do seu pai, idolo da sua vida, já surge um pouco mais de seguranca e de coragem, apesar dos caminhos ainda vivos desta cidade onde agora me encontro. E se vim cá ter, será talvez também para esclarecer, afinal, que ilusoes teremos para tamanho caminho que é a realidade da nossa vida. De onde, no fim, iremos tirar todo o nosso cinema.
17.3.10
10.3.10
8.3.10
La Résistance

Via ontem a cerimónia de entrega dos Óscares e só pensava nisto: num anjo exterminador.
7.3.10
2.3.10
O equívoco
The Pleasure of Being Robbed esteve no Indielisboa do ano passado. Desconheço se a nova longa-metragem do realizador Joshua Safdie estará na edição deste ano. Uma coisa é certa - espera-se que tenha aprendido, entretando, a colocar uma câmara, e não a fazê-la mexer desgovernadamente esperando todas as referências automáticas a Cassavetes e ao cinema independente dos anos 70 americano. Este, aliás, é o equívoco tradicional do cinema independente norte-americano. Uma "filmagem livre" (grandes planos planos - mais por ter a lente errada do que por se querer entrar em quem se filma, e filmar tudo no ar e não como seguimento do corpo) merece imediatamente a etiqueta "Cassavetes". Este lugar-comum que se tornou numa certa maneira de fazer cinema não percebe que Cassavetes não fazia um cinema "livre": fazia o cinema mais dependente das emoções estragadas e destragadas dos indivíduos com maior vida dentro de si. É cinema com a vida injectada, a baldes, por ali adentro. Filmes como o de Safdie são, vá lá, simpáticos. Mas a vida que têm não chega para preencher o ecrã de um Iphone. Lamentavelmente. Talvez o próximo filme, se vier aí, mostre já o contrário.
28.2.10
Shutter Island (a cinefilia)
O que dizer sobre Shutter Island? Não é Mean Streets, não é Taxi Driver, não é Goodfellas... Não é o melhor filme de Scorsese nem representa um regresso à pujança crua dos seus melhores, aqueles que deveriam ter recebido os óscares e as consagrações.
Mas saio do filme com duas certezas: Scorsese é um autor e isso hoje em dia vale o que vale (e vale muito). Pode-se criticar o recurso à cinefilia no discurso do realizador para justificar os seus filmes - mas não será esse o mesmo discurso que alguns críticos utilizam para justificar as suas estrelas? A facilidade com que se debitam nomes em vez de ideias depois dos seus filmes não se resume unicamente a um facilitismo do realizador (pelo contrário).
A outra certeza vem daquilo que já escrevi aqui antes. Esqueçamos a conversa - melhor, peguemos nela e atiremo-la para dentro do filme - aquilo que realmente interessa. Para uma obra cuja conclusão dramática será aceitar a realidade, dever-se-ia também tirar essa conclusão para se escrever sobre ele. Scorsese em 2010 nunca poderá ser o que foi em 1970, 80, ou 90. Insistir nisso é bater na tecla errada, é construirmos as nossas desculpas para justificarmos as nossas insatisfações com o presente. Olhar para trás é também resultado da nossa cinefilia (essa "doença", como dizia Truffaut). Será portanto possível olhar para Shutter Island sem pensar naquilo que o seu autor construiu no passado e depois perdeu? A interrogação final do filme parece ser Scorsese a falar com ele próprio: será melhor viver como um monstro ou morrer como um bom homem? Por outras palavras, ser para sempre o desajustado da indústria de que se alimenta ou ser aceite pelos seus filmes de lobotomia? Em 2010, parece querer viver como um bom homem. E se aceitarmos essa realidade, veremos que o nosso saudosismo será tão verdadeiro como as cinzas que se espalham por este filme. Por mim, escrevo: Martin Scorsese, anytime, anywhere. Anytime, anywhere...
22.2.10
Feliz cumple

Luis Buñuel faria hoje 100 anos. Fez, durante o seu percurso, algo cada vez mais raro: filmes a partir da matéria de que somos feitos. É essa a matéria que habita as melhores das suas obras. Fez-nos ver que somos pessoas mais complexas, logo, mais ricas. E que nenhuma imagem é neglicenciável. Temos saudades, assim diz a nossa realidade. Os sonhos nunca nos deixarão.
19.2.10
A Princesa
Vasco Granja mostrou-me isto há cerca de vinte anos. Cheguei a escrever aqui sobre esta minha memória de infância, a primeira memória televisiva e que sempre me acompanhou. Ainda hoje a história me diz algo, como que dizendo-me que as nossas histórias repetem-se.
18.2.10
Trás-os-Montes
Se existem filmes que provam a liberdade do cinema enquanto arte e a sua capacidade de reunir, tocar e mostrar tanta matéria pelas vias mais simples, Trás-os-Montes de António Reis é sem dúvida um deles. Para além de um estudo etnográfico, sociológico e histórico daquela região, da sua paisagem e do país em que vive, Trás-os-Montes mostra que pode ser tudo isso (se quiser ser) apenas sendo um estudo cinematográfico. São filmes como este que deitam abaixo qualquer discussão sobre "cinema da indústria" e "cinema de autor" (os que a usam não perceberam que todo o cinema tem o seu autor) e que recentram as ideias nas possibilidades daquilo que o cinema é e pode fazer. Dizia-me um dos muitos espectadores que esgotaram a sessão de ontem na Cinemateca (que ocuparam cada cadeira e cada degrau da sala), meio a brincar, meio a sério, que APV tinha-se enganado: as pessoas não querem ver a Soraia Chaves, querem ver Trás-os-Montes. Basta parar de discutir e ver os filmes para perceber qual dos dois países é o nosso. O resto é conversa.
16.2.10
O inquilino
Os filmes de Polanski trazem-me um sentimento muito familiar, algo com que cresci e que habitualmente se justifica com o facto de se ter tido uma educação católica: que algo está profundamente errado no espaço onde nos encontramos. Hoje em dia, e com maior distância, associo alguns episódios da minha infância a um tremendo sentido de culpa, de medo do risco e de ultrapassar certos limites da nossa educação (não por se ter pais tiranos, mas porque em criança se vive no domínio da imaginação). Cada acto teria um consequência, e a possibilidade dessa consequência, de uma possibilidade de prazer ou possibilidade de punição, trazia já por si o sentimento de culpa por algo que não sabíamos se deveríamos fazer (algo talvez mais de Hitchcock do que Polanski, porventura).
Mas se esses dois cineastas não estão assim tão distantes um do outro, será talvez por ambos tocarem nesses sentimentos bem assentes da nossa infância. Um filme de Polanski leva-me muitas vezes às raízes do instinto maternal sobre o qual as crianças vivem e que pediremos com raiva enquanto adultos. Haverá algo mais conciliador e pacificador do que ver Mia Farrow, em Rosemary's Baby, depois de lutar contra a conspiração dos seus vizinhos satânicos e recusar-se a aceitar a encarnação do diabo no seu filho recém-nascido, baloiçando o seu berço após o líder do culto chamá-la a ele, pondo-lhe como palavras na alma "aren't you his mother"? Ou algo mais terrível mas verdadeiro em ver Polanski, actor em The Tenant, bater numa criança porque esta precisou de chamar a sua mãe num choro sonoro e convulsivo, talvez por não ter ele ninguém a quem chamar na sua vida adulta, ainda rodeado de pesadelos, monstros e quartos escuros?
Vivi a minha infância e a adolescência entre várias casas, sendo que quase todas elas se destinavam à minha passagem e de outras pessoas. Nunca conheci totalmente nenhuma delas e sempre se vivia numa função de representação no meio de visitas e vizinhos. O desconforto e a suspeita entre as paredes das casas de Polanski é o pesadelo e realidade de qualquer inquilino, locais onde a nossa identidade e a visão dos outros nos cercam. Em criança nunca andei nos corredores, fi-los todos sempre a correr. Hoje em dia sento-me no meio das paredes de um quarto e são essas as imagens que me cercam. Agora como adulto, o risco está passado e serão elas que me acordaram da noite para o dia e dos dias para a noite.
15.2.10
13.2.10
Richie

Please give me a second grace
Please give me a second face
I've fallen far down the first time around
Now I just sit on the ground in your way
Now if it's time for recompense for what's done
Come, come sit down on the fence in the sun
And the clouds will roll by
And we'll never deny
It's really too hard for to fly.
Richie is, perhaps by default, a Christ-like figure in The Royal Tenenbaums: he is the only one of the Tenenbaum children who is unconditionally forgiving of his father’s mistakes; he is the first character to utter the words “I love you” and does so frequently; and, most significantly, he is willing to die in order to save himself and Margot from the futility of their reciprocal desire. Although mutual need drives the siblings’ attraction, Richie’s need is perhaps more selfless: it is a necessity born of his desire to save Margot, and to restore the grace and innocence he witnessed in them both as children.
Like Margot, Richie initially attempts to conceal his shame: he disguises himself under long hair and a full beard, and travels out to sea in a futile effort to put Margot behind him. Even though he had not played tennis in years – since suffering a nervous breakdown on the court after spotting Margot and her new husband in the audience – he is unwilling to remove the garb that symbolized both his athletic glory and the only Tenenbaum achievement that made his father proud. Significantly, Richie is the first to purge his uniform and his belongings, notably his cherished bird, Malachi, whom he sets free. It is Richie’s attempted suicide that offers the most profound evidence of his willingness to let go of his former self, and his need for absolution.
11.2.10
9.2.10
O fatalismo
Algo se passa quando percebo que ando na rua a ouvir The Kinks e a sonhar que a minha alma pertence a uma melodia britânica em guitarra acústica (com visões londrinas, uma Union Jack e um sentimento juvenil de Britannia rules the waves), que entro na livraria francesa e sinto que todo o meu pensamento vive ali no meio daquelas palavras, e que depois ando pelos corredores da exposição mais portuguesa possível (Amália Rodrigues) e nada ali me agarra, nada ali me prende, a não ser aquele restinho de tristeza e de arrastar que é o fado, que é tudo aquilo que é o meu país e tudo aquilo que eu não desejo ser. Está tudo lá, só não o quero.
6.2.10
30.1.10
29.1.10
Mi sembrava di avere le idee così chiare. Volevo fare un film onesto, senza bugie di nessun genere. Mi pareva d'avere qualcosa di così semplice, così semplice da dire, un film che potesse essere utile un po' a tutti, che aiutasse a seppellire per sempre tutto quello che di morto ci portiamo dentro. E invece io sono il primo a non avere il coraggio di seppellire proprio niente. Adesso ho la testa piena di confusione, questa torre tra i piedi… chissà perché le cose sono andate così. A che punto avrò sbagliato strada? Non ho veramente niente da dire, ma lo voglio dire lo stesso.
28.1.10

Had I the heaven's embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:
But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.
(Noel Coward, David Lean; W.B. Yeats.)
26.1.10
Vergogna

Para quem gosta muito de cinema, pode ser difícil escolher um filme preferido. Mas queremos sempre escolher aquele filme que chamamos "o filme da nossa vida". Eu não tenho qualquer dificuldade. 8 1/2 de Federico Fellini é o meu filme preferido, o filme da minha vida. Revejo-me em todos os planos, em todas as inquietações, em todas as angústias, nas suas fantasias e na sua música. Não digo que sou eu (para isso existem outros filmes), mas revejo-me em muito do que lá está e muitos dos que lá estão. É, pelo menos, aquele que eu gostaria de ser quando penso em cinema.
Nesta fotografia, Sophia Loren, à direita, foi visitar Federico Fellini e Marcello Mastroianni nas filmagens. Não entrou no original mas entrou no remake que saiu há pouco e está nas salas portuguesas. Fui vê-lo hoje. Se eu fosse o Fellini, espetava-lhe o chapéu na cara.
Marion Cotillard, o mundo é teu.
25.1.10
Kapurush
Os filmes de Satyajit Ray cingem-se, geralmente, sobre os momentos mais tocantes de uma vida, tanto os mais bonitos como os mais difíceis. São filmes que vêm de episódios que constroem e marcam as vidas dos seus personagens, momentos que definem o seu crescimento e as alturas em que nos sentimos obrigados a crescer ou a mudar. Coisas simples e banais porque acontecem em todas as vidas - mas simples e banais são as coisas mais marcantes e as mais difíceis de uma vida. O princípio de um caminho, o fim de uma relação, um adeus a alguém próximo, ou sabendo que por muitos passos e muita solidão, nunca estaremos sozinhos nos caminhos por onde entramos.
Muitas vezes, Ray concentra-se na qualidade mais difícil de manter perante as incertezas flutuantes, próprias da nossa natureza e insegurança: a coragem. A tradução de Kapurush - um dos seus "pequenos" filmes centrados em episódios específicos de uma vida -, é "The Coward", palavra sempre forte demais para a análise racional dos nossos actos. Por detrás das nossas inseguranças, é sempre fácil encontrar o motivo que nos impede para agirmos sozinhos ou cedermos perante o outro. Tanto um compromisso de vida como um compromisso de um dia (um gesto, um beijo) implicam a assunção da coragem de viver. Nesse filme, o seu personagem revê a mulher que rejeitou por não ter a coragem de lhe dar a sua vida em troca da dela, encontrando-a mais tarde, e por acaso, no seu lar, junto do seu novo marido, imagem contrária à promessa que ele próprio teria anteriormente alimentado. Sentindo-se culpado e sozinho, decide pedir-lhe um regresso, um esquecimento da sua indecisão e um abandono do seu lar, e quando antes pedia-lhe tempo, diz-lhe agora que poderá dar-lhe todo aquele que não tem.
O final é triste e choca no título seco do seu filme. Ao contrário de uma natureza mais clássica do cinema, Ray não deixa qualquer porta aberta - fecha-a na cara do espectador e espeta um "fim" no rosto espantado e perdido do seu protagonista. A sensação do tempo ter passado acentua-se com o som do comboio que chega e que deverá levá-lo de volta à sua cidade, a terra que não perdoa e que não pensa nos sentimentos e desejos que nós criamos. Por um lado (o do protagonista), diz-nos que o tempo pode ser cruel e fechar-se perante nós, tornando-nos rendidos ao esquecimento, fruto de uma recusa da aprendizagem da vida. Por outro lado (o da protagonista), diz-nos que perante a cobardia da outra pessoa, resta-nos a nós a coragem de conseguir seguir em frente e viver uma outra vida. No entanto, essa suposta segurança acaba por tornar-se em frieza absoluta, transformando-se numa indiferença já por si cobarde. Assim, e perante o episódio mais humano que alguém poderá alguma vez ter - viver e saber viver com aquilo que fica e aquilo que virá -, fica um balanço abrupto e de choque. Talvez seja esse o maior perigo da cobardia - a mágoa, o rancor, a indiferença. No cinema de Ray, e mesmo nos episódios mais duros, a ternura com que (nos) aborda será sempre um veículo de catarse ou salvação. Aceitemos a natureza como se o mundo nos pertencesse - é o que nos dizem certas sequências da Ray. A cobardia será tomá-lo sem o respeito e a ternura que a vida nos pede. Aí repousará, porventura, a nossa segurança.
17.1.10
Rosemary

Se faz sentido o mal existir, faz também sentido uma mãe amar o seu filho independentemente daquilo que fazem dele. Para além da história tenebrosa que se esconde pelas divisões da sua casa no Dakota Building, existe também a história de amor da mãe que carrega o seu filho por nascer e se revolta, de faca em punho, contra aquilo que lhe tentam fazer. Contudo, e como a natureza lhe manda, acaba por sucumbir ao amor maternal. Pois dentro da força do mal, o amor reina, mais uma vez.
16.1.10
Subscribe to:
Posts (Atom)
Blog Archive
Ligações
- A Lei Seca
- Apeloeh
- Aquele Grande Rio
- As Aranhas
- Aí Parangolé!
- Chained and Perfumed
- Cruel Vitória
- Da Casa Amarela
- Dias Felizes
- Effra Road
- Embaku
- If Charlie Was a Gunslinger, There'd Be a Whole Lot of Dead Copycats
- Ladies Love Cool R
- Ma-Schamba
- Mise en Abyme
- O Touro Enraivecido
- Paraíso do Gelado
- Phantom Limb
- Umblogsobrekleist
- Vontade Indómita